Do país do futuro ao país sem futuro, por Maurício Meireles
A aniquilação da primeira instituição científica do país, com um acervo de mais de vinte milhões de itens, em coleções de história natural, arqueologia, antropologia e etnologia, de valor incalculável, é uma tragédia cultural de dimensões universais.
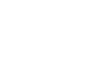

A palavra “arquitetura” deriva da conjunção, em grego, dos termos arkhé e tékhton, o primeiro designando “origem” ou “princípio”, movimento primeiro de todas as coisas, e o segundo “construção”. Nesse sentido, a Arquitetura é feita não apenas dos espaços que habitamos, mas também do Tempo que nos habita. Assim, a demolição de toda Arquitetura (na acepção acima) é sempre um duro golpe na memória coletiva.
“Museu”, por sua vez, tem origem no grego mouseion, o templo ou morada das Musas, divindades protetoras das artes e da história, filhas da deusa Mnemosyne, a Memória. Quando construímos museus – instituições de guarda e conservação de objetos de valor artístico, histórico ou científico – produzimos espaços privilegiados para o acolhimento da Memória. Inversamente, a destruição de um museu tem o significado de uma morte do Tempo.
Falo, naturalmente, do incêndio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, ocorrido no dia 2 de setembro último. A aniquilação da primeira instituição científica do país, com um acervo de mais de vinte milhões de itens, em coleções de história natural, arqueologia, antropologia e etnologia, de valor incalculável, é uma tragédia cultural de dimensões universais.
De modo dramático, a queima dos artefatos ameríndios, pondo fim à memória material desses povos – muitos dos quais já desaparecidos –, significa uma segunda morte dessa gente outra. Se, para os índios que aqui habitavam antes da chegada do invasor europeu, o contato com o branco civilizado significou a destruição de seu mundo, assistimos agora a morte de sua cultura. Uma perda irreparável não apenas para nós, brasileiros, mas para toda a humanidade
Do mesmo modo, o desaparecimento de Luzia, o mais antigo fóssil humano das américas – descoberto em 1974 na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais –, que remonta há cerca de treze mil anos, e era considerado de importância fundamental para o entendimento da presença humana no continente, pôs fim, ao menos momentaneamente, às pesquisas sobre uma possível origem africana de nossos ancestrais pré-históricos.
No momento em que o país cumpre o que parece ser um destino trágico, inscrito em seu próprio nome (brasil: adj. da cor da brasa), e inflama-se politicamente, as chamas que consumiram o antigo palácio imperial, que em 1892 tornou-se o Museu Nacional – o principal símbolo da civilização brasileira –, são uma metáfora terrível do atual estado de emergência ética, social e econômica em que vivemos.
Presos entre o passado que teimamos em ignorar, e o futuro que nos parece cada vez mais distante, vivemos num eterno presente, o que nos impede de aprender com nossos erros – há quarenta anos, um outro incêndio destruía o Museu de Arte Moderna do Rio de janeiro, queimando obras de Picasso e Salvador Dali, além da quase totalidade da produção construtivista do uruguaio Joaquín Torres-García.
É uma ironia atroz que se tenha inaugurado recentemente, nessa mesma cidade, um museu de alta tecnologia ao custo de trezentos milhões de reais, quando menos de sete por cento desse valor teria evitado a tragédia do Museu Nacional; e que o fundamento conceitual desse novo museu seja o de que “o amanhã não é uma data do calendário ou um lugar, é uma construção coletiva da nossa civilização”. Encalhado na Praça Mauá, no centro do Rio, o Museu do Amanhã lembra o esqueleto calcinado de um gigantesco cetáceo pós-histórico – um monumento ao nosso incerto porvir.
Sobre o que restou do Museu Nacional, e a obliteração de seu esplêndido acervo, disse Eduardo Viveiros de Castro, um dos mais importantes antropólogos do mundo e professor daquela instituição: “gostaria que aquilo permanecesse em cinzas, em ruínas, […] para que todos vissem e se lembrassem. Um memorial […] das coisas mortas, dos povos mortos, […] destruídos nesse incêndio” – um monumento ao desaparecimento de outros mundos possíveis e à morte simbólica de todos nós.
*Maurício Meireles é arquiteto urbanista. Foi dirigente do Sinaenco/MG e coordenador do estudo do Prazo de Validade Vencido das cidades históricas de Minas Gerais.
Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
